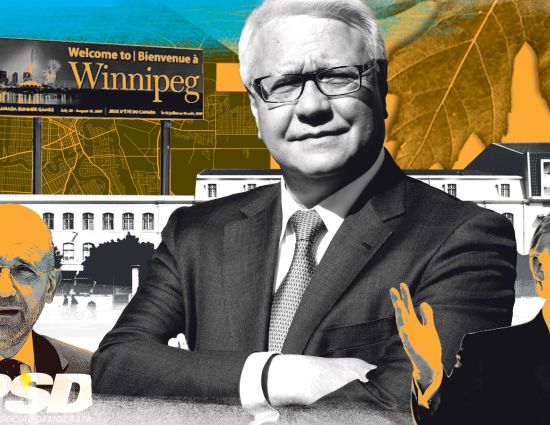Já nos conhecemos há anos, mas nunca me passou pela cabeça que o Manuel Falcão que conheço sabedor de tudo quanto há para se saber de jornais, de cultura, se formou em Medicina. Estes encontros no Madeirense, além da extraordinária comida e receção de Manuel Fernandes, têm este delicioso amuse-bouche de nos darem uma perspetiva não imaginada até de quem julgamos conhecer. Sentamo-nos à mesa e escolhemos o filete de espada com legumes e um especial pedido do tradicional e sempre bem vindo milho frito, um copo de vinho a acompanhar a conversa, e entro no Alentejo onde nasceram os pais deste filho único, numa aldeia vizinha de Niza. Conta-me que acaba de recuperar a casa dos bisavós, ali em Amieira do Tejo, preparando-se para lá passar mais tempo, agora que a atualizou nos confortos do século XXI. Mas sabendo-o incapaz de se desligar do mundo e de recusar novas aventuras, é fácil ver que essas temporadas nunca passarão por uma retirada.
Mudados para Lisboa – a mãe formou-se no Magistério e o pai aqui exercia Medicina -, juntaram-se e nasceu Manuel uns anos mais tarde, na clínica de São Miguel, bairro onde viveu até se casar. Por ali fez o Luso-Britânico, depois o Liceu Camões, na Praça José Fontana, e seguiu as pisadas do pai na Medicina, que cumpriu até ao último ano, sempre sem grande convicção, a adivinhar que não seria essa a sua vida.
“As opções à época, em 1971, não era assim tantas… e eu sempre gostei imenso de Física, de Biologia. O curso deu-me uma perspetiva do funcionamento das coisas, do corpo, que é incrível, mas já fiz o sexto ano com um pé fora e a certeza de que nem ia fazer estágio, apesar de ter boas notas.” Admite que se houvesse então oportunidade de fazer Anatomia Patológica e trabalhar em laboratório, talvez nunca tivesse passado para os jornais. Mas foi para aí que o 25 de Abril o puxou, em plena veia a pulsar de revolução – condição de que se curou cedo. “Segui os movimentos todos da época, aderi furiosamente à extrema-esquerda, fui militante da UDP até meados de 1976”, conta, a rir, explicando que foi por essa porta que chegou à Voz do Povo, onde foi colega de José Manuel Fernandes, Nuno Crato e outros notáveis.
A sua paixão, porém, era já então a fotografia, um amor que o pai sempre protegeu e alimentou à custa da oferta de boas máquinas e incentivos. É talvez esse ponto, tão pessoal, a maior constante que leva na vida – e que talvez tenha alguma coisa que ver com o projeto ainda secreto, a quatro mãos, que está a preparar com o artista plástico Pedro Cabrita Reis, de quem é grande amigo.
Nessa década de 70, foi como fotógrafo freelancer que se ligou a várias publicações, mas mais fielmente ao Portugal, Hoje. E aí se deu a confluência de Manuel Falcão com a música, outra paixão assumida. O suplemento Som 80 permitiu-lhe, mediante convite do diretor do jornal, Alexandre Pais, pegar no caderno e aprender. Foi com ele à frente que se deu a polémica sobre a suposta veia fascista dos Heróis do Mar, com Falcão a ser dos poucos a sair em defesa da banda. E foi esse tempo que o empurrou a um projeto que levava já na cabeça, aos 27 anos, o de fazer um jornal musical. E assim nasceu o Blitz. “Aquilo era quase um passatempo, mas vendia 15 mil exemplares”, recorda, dizendo que foi essa experiência que o tornou visível ao Expresso e depois ao Independente, rampas de lançamento que o conduziram pela vida.
Pelo caminho, sabendo de um concurso para recrutar jornalistas para a agência noticiosa ANOP, candidatou-se e foi chamado. Foi a sua escola de jornalismo e nesses sete anos, Manuel cruzou-se com “nomes fantásticos”, incluindo Pinheiro de Almeida, Appio Sotto-Mayor (pai de João Gobern) e Wilton Fonseca, “um senhor, que tinha uma maneira de nos ensinar incrível”. A fusão que daria vida à Lusa fê-lo mudar de vida e se o Expresso lhe oferecera lugar nos quadros – um seguro de vida, na época -, não foi capaz de resistir ao desafio de Miguel Esteves Cardoso para se juntar ao grupo fundador do Independente.
“Foi uma aventura”, lembra. Miguel era a cabeça, Paulo Portas o executivo e ele era “o único que percebia alguma coisa de como funcionavam os jornais”. Mas o que o atraía mesmo – e até hoje é condição das suas decisões – era a possibilidade de fazer coisas novas ou pelo menos transformá-las. “E foi incrível.”
Passaria ainda pelo Se7e e qualquer coisa que ali escreveu numa coluna chamou a atenção de Pedro Santana Lopes de tal forma que este veio desinquietá-lo, convidando-o a ser presidente do Instituto Português de Cinema. “Conhecia-o circunstancialmente, foi mesmo um convite out of the blue”, recorda agora, situando o tempo nos anos em que António-Pedro Vasconcelos era secretário de Estado do Audiovisual e rematando com algumas conquistas suas, como um novo regulamento de produção, o apoio dado à elaboração de importantes filmes e documentários. “Mas depois aquilo esgotou-se, até de forma simpática”, diz. E conta o episódio em que, após uma viagem de trabalho à China, onde Santana ia no 10 de Junho – e à qual ele se juntara para convencer o governo de Pequim a deixar ali filmar o Senhor Ventura, de José Fonseca e Costa e baseado num conto de Miguel Torga -, se tornou numa nova aventura. O projeto de cinema borregou, mas veio o convite de Santana Lopes para substituir Bouza Serrano como seu chefe de gabinete. “O meu conhecimento da administração pública era o mesmo que de um jogo de críquete”, ri-se. “Eu dava-me mal com salamaleques, pior ainda com os que tinham comigo pessoas que respeitava imenso… mas conseguia desenvencilhar coisas e isso ajudou.”
Ficou ali até o CCB ver a luz do dia e o governante o recomendar para o Centro de Espetáculos, que dirigiu “com uma equipa fantástica – tive aliás a sorte de ter sempre equipas fantásticas”, diz.
Se a sua vida se tece sempre entre a cultura e os media, Manuel ainda voltaria aos jornais, entrando na Visão, até Mega Ferreira, já no pós-Expo 98, criar uma unidade de audiovisual para retratar o país em documentários, com uma estratégia de digital bem pensada e à frente do seu tempo. Estava no Pavilhão Atlântico quando foi desafiado de novo, agora para liderar o primeiro grupo de trabalho que ia estudar o serviço público de televisão. Mas não sem antes passar pela Valentim de Carvalho. “Houve ali uma época, no final dos anos 90, em que o Chico Vasconcelos me convidou a trabalhar com ele na produção de televisão e música e não tinha como recusar: era a oportunidade de ver o outro lado da música.” Como tudo o que fez, diz ter passado ali bons momentos. E foi na sequência dos documentários ali produzidos que foi notado e chamado por Luís Marques para dirigir a RTP2.
“Não aceitei tudo o que me propuseram na vida, mas tendo duas condições, era quase certo que dizia sim: ter confiança na pessoa que me convidava e saber que era um projeto de tranformação ou criação, com meios para fazer.” Ali deu vida a projetos sobre Luís Pacheco, Amália, Júlio Pomar e outros grandes nomes nacionais que não constavam do arquivo de memória cultural da estação pública.
Deixou a RTP 2 com uns notáveis 7% de share – fruto de uma programação diferente de tudo, muito virada para os jovens e a estrear séries disruptivas, como The L Word – no dia em que, tendo o PS vencido as eleições, Santos Silva foi nomeado para a tutela.
Foi então que surgiu o convite de Pedro Baltazar para entrar para a Nova Expressão, onde esteve “15 felizes anos” e desenvolveu o gosto pelo estudo do perfil de audiências dos media. Deixou a agência, para se reformar, há dois anos, ainda que continue a acompanhar a indústria dos media de muito perto (basta ler a análise que faz nas páginas 38-39 deste jornal). “Saí sempre a bem de todo o lado”, diz, afirmando que agora é tempo de fazer o que mais prazer lhe dá: o livro de fotografia tantas vezes adiado, mas já bem vivo na sua cabeça, e cuja execução está a finalizar. Quando chegará? “Realisticamente, em 2025”, diz, assumindo que a coisa atrasou porque ainda se desviou, no último ano e meio, para a EGEAC – após apoiar Carlos Moedas ativamente, foi por ele convidado, uns meses mais tarde, a contribuir nessa missão cultural, o que fez pro bono.
Chegam os cafés e os pastéis de nata com a certeza de que Manuel Falcão continuará sempre a aceitar novos voos, sobretudo aqueles em que possa aprender alguma coisa. Essa sim, é uma paixão – seja sob a forma das técnicas digitais de fotografia seja na de um curso de guionismo.
Conta-me ainda uma vida pessoal tão rica quanto a profissional – primeiro casado com uma colega de Medicina, de quem teve a primeira filha (Filipa, psicóloga), depois com uma colega jornalista, com quem teve os outros dois (Maria, consultora, e Gonçalo, programador) -, o que hoje lhe permite desfrutar em pleno dos seis netos, entre os 21 e os 2 anos, ao lado da mulher Com Dalila, com quem está há mais de uma década. “Foi amor à primeira vista”, diz, antes de confidenciar que se conheceram na internet. Depois ri-se e explica. “Em tudo quanto eu escrevia, punha o meu e-mail e um dia, estava em Cannes, recebi um mail dela a elogiar uma coluna. Mail vai, mail vem, acabei por sugerir que nos conhecêssemos em pessoa.” E nunca mais se largaram.
Antes de nos despedirmos, elenca nas suas irritações o wokismo – “não é progressivo, é profundamente reacionário” – e a falta de reformas no país, sobretudo a da lei eleitoral, que permitiria melhor representatividade e mais credibilidade à política. E conta o que faz para se divertir: vê cinema, séries, lê, devora revistas, o que o torna culpado de pilhas de papel em casa – o digital só usa quase como arquivo. Na música, que ainda descobre todos os dias, é o oposto: “Tenho uma casa de discos péssimos, que comprei por curiosidade até descobrir o Spotify”, ri-se contando que ali ouve agora de tudo, do jazz e soul a Taylor Swift. E fotografa e fotografa e fotografa.
Artigo publicado na edição do NOVO de sábado, dia 30 de dezembro