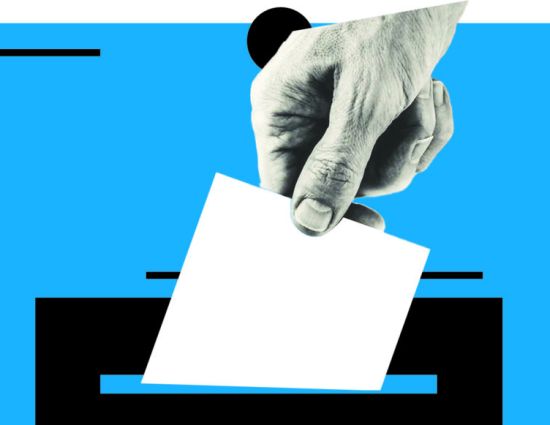Advogado e há dois anos líder do CDS, Nuno Melo é a cara dos centristas na coligação AD, que junta ainda PSD e PPM na corrida às legislativas de 10 de março. Pelo seu partido, foi 13 anos deputado e desde 2009 eurodeputado, integrando o PPE.
Num evento promovido pela Federação Portuguesa Pela Vida, o seu número dois, Paulo Núncio, defendeu que se revisse a lei do aborto. Seria uma opinião pessoal, que é também a que o CDS sempre defendeu. O Nuno já garantiu que não é tema para a legislatura, mas trouxe um ruído desnecessário à campanha?
É um tema que não consta do acordo de coligação, não é assunto. O que não invalida que as pessoas tenham as suas opiniões, isso é legítimo. Essa foi uma opinião expressa pelo Paulo Núncio, que não invalida que o tema não exista na legislatura, como não invalida o histórico do CDS sobre estas questões. Nós estamos numa coligação, ela foi criada para se encontrar uma alternativa ao PS que traga esperança a Portugal e que vai fazer muito melhor do que tivemos nos últimos oito anos.
“Vai fazer melhor”? Já acredita na vitória da AD?
Acredito francamente na vitória. E acredito porque esta já não é uma disputa clássica entre direita e esquerda, é uma disputa entre pessoas que acham que está tudo bem e as que não se resignam ao que têm à volta. Entre aqueles e os que, sendo de direita ou de esquerda, já não aceitam chegar ao hospital numa situação de emergência e ter as urgências fechadas ou não conseguir uma consulta ou cirurgia de que pode depender a sua vida. Que não aceitam a instabilidade nas escolas e que os seus filhos não tenham professor a uma disciplina fundamental para entrarem na universidade. Que não aceitam que um em cada três jovens tenha de sair do país porque a taxa de desemprego nessa camada é superior a 20% e quem encontra emprego tem salários miseráveis. E que não se resignam a não ter casa nas suas cidades e que haja 4 milhões de pessoas a viver no limiar da pobreza. Que não querem viver com os bolsos vazios porque estão esmagados por impostos – seja no que tem que ver com o trabalho seja nas empresas. A disputa é entre estas pessoas, de direita e de esquerda, e os outros, que são representados por um Pedro Nuno Santos que vai a um debate na TV perguntar: “Afinal o que é que não funciona?”.
E os primeiros serão a maioria?
Eu acredito que a maior parte dos portugueses acha que o país está a funcionar muito mal. E que a AD vai vencer as eleições. É isso que temos sentido na rua.
E a AD tem propostas para resolver todos esses problemas? Qual é a prioridade no meio de tudo o que aponta que está mal?
Não há área sectorial em relação à qual a AD não tenha propostas e, contrariamente ao que se vê em todos os outros partidos, todas as propostas da AD são contextualizadas no cenário macroeconómico – não nos limitamos a propor só a pensar em votos, nós apresentamos soluções para os problemas do país e quantificamo-las na possibilidade de as alavancar numa perspetiva de crescimento.
Mas há temas mais prementes?
As prioridades, infelizmente, são muitas. Todas estas questões com as quais os portugueses não se resignam são prioritárias, dependendo de quem vive esses problemas. Mas há uma que me parece óbvia, que tem que ver com a saúde e a necessidade de salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo em consideração que um doente não quer saber se a ministra (como aconteceu no governo do PS) se exalta a ouvir Internacional quando se sente ansiosa, mas sim ter a certeza de ser tratado rapidamente. Ao ministro da Saúde – que não é o ministro do SNS –, numa base de complementariedade naquilo que é a arquitetura da saúde em Portugal, cabe assegurar uma resposta. Há várias medidas que a AD propõe para isso, retirando a ideologia da saúde, voltando a pensar em parcerias público-privadas onde elas funcionam – Marta Temido, ao tempo, acabou com elas e transformou hospitais bem geridos e premiados, de Braga a Loures, em hospitais cheios de problemas –, dignificando o exercício das profissões na saúde (médicos, enfermeiros , técnicos) inclusivamente do ponto de vista salarial. Portanto, há muita coisa a fazer na saúde. Mas também há tudo o resto. A educação: resolver o problema dos professores repondo faseadamente o tempo de serviço, com bom senso, mas também devolvendo-lhes autoridade; exigência no ensino… Veja o que aconteceu no PISA: os resultados dos nossos alunos foram muito maus e o problema não foi a covid, porque caímos muito mais no desempenho do que os outros. E o país tem muito mais problemas. A saída dos jovens, por exemplo, para o que propomos coisas básicas, como o IRS jovem, de 15%.
Mas os jovens não pagam IRS, com os salários que recebem.
Mas simultaneamente queremos alterar o modelo económico para permitir melhores salários, queremos que os que têm baixos salários tenham melhores salários e entrem nas obrigações fiscais, contribuindo para o crescimento da economia e para o Orçamento do Estado (OE). Quando dizemos que queremos libertar financeiramente famílias e empresas, estamos a falar de reduzir IRS em todos os escalões, de retomar a reforma do IRC que António Costa rasgou – e que tinha sido firmada com o PS, no sentido de reduzir faseada mente o IRC para valores que permitam uma distribuição de rendimento melhor. Há um conjunto de medidas avaliadas pelo conjunto que permitirão um crescimento da economia, melhores salários para os jovens, melhores oportunidades de vida.
Não implicam perda orçamental?
Pelo contrário. Nos últimos oito anos, Portugal foi ultrapassado por muitos países que aderiram mais tarde do que nós à UE e eram muito mais pobres, saídos da experiência soviética, que não resultou. Na fórmula que lhes permitiu isso, o elemento fiscal foi fundamental: baixaram muito os impostos sobre famílias e empresas e assim dinamizaram a economia porque libertaram rendimentos, deram mais dinheiro às famílias para poderem consumir, às empresas para reinvestir, isso permitiu melhores salários e potenciou um crescimento que está à vista. Já Portugal há anos que insiste num modelo socialista que assenta num peso excessivo de um Estado paternalista, que vai buscar cada vez mais recursos a cada vez menos contribuintes e os redistribui muito mal, com péssimos serviços públicos. Apenas 16% dos portugueses pagam 80% dos impostos: isto não é normal. Em 27 anos, tivemos 20 de governação do PS. O PS não pode dizer que não teve meios, instrumentos e recursos para aplicar a sua visão para a sociedade, para a economia, para o país. Os resultados estão aí. É tempo de uma fórmula muito melhor, que é que nós propomos, e que vai fazer o país crescer, os salários subirem, dar dinamismo à economia e trazer coesão social. Temos, repito, 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza.
Antes das prestações sociais.
Naturalmente, mas é uma vergonha. Ao fim destes oito anos, vê-se o que não se via: na arruada que fizemos há dias em Arroios, vimos pessoas a viver em tendas na rua. Isto é atroz, é indigno, são famílias que têm de ter proteção e não se pode fazer de conta que isto não acontece à nossa volta ou, como Pedro Nuno Santos, perguntar afinal, o que é que não funciona. Neste momento, não funciona nada! Ou funciona tudo mal.
Deixe-me voltar ao IRC. Não acha que seria mais importante simplificar o imposto, considerando que a taxa nominal até está na média europeia – o que existe depois é uma quantidade de regras que sobem a taxa real, como as derramas, e uma sucessão de isenções e exceções que ninguém entende?
Nós temos um problema de fiscalidade e um de burocracia, de custos de contexto. O que vai ser feito é relevante do ponto de vista da simplificação administrativa e é relevante também do ponto de vista da redução dos encargos fiscais que os trabalhadores, as empresas e as famílias têm de suportar. Isso está contextualizado e terá impacto, num cenário macroeconómico que justifica taxas de crescimento bem acima das que o PS prevê.
Como é que viu a entrada de Passos Coelho na campanha da AD e o que o ex-primeiro-ministro disse sobre a imigração e a necessidade de controlar melhor quem aqui chega?
É uma questão de lucidez básica. Nós temos de garantir que quem entra tem trabalho e é integrado, tratado como qualquer cidadão nacional. Quem vende a ilusão das portas abertas sem regulação só consegue aquilo que se vê, que são famílias a viver na Gare do Oriente. Isto acontece porque não há nenhum controlo. O PS matou uma gestão regulada dos fluxos migratórios e trouxe indignidade à vida de muitos que procuram Portugal para ter um futuro melhor. E nós precisamos de pessoas a trabalhar. Pessoas qualificadas, na perspetiva de que o trabalhador indiferenciado pode ser qualificado na sua área.
Que pode ser a construção ou a agricultura…
Sim, nós precisamos de pessoas na agricultura e na construção, como de médicos, enfermeiros, cientistas… Mas o que faz sentido é que essas pessoas tenham um enquadramento laboral que lhes permita contribuir para a sociedade, pagarem também os seus impostos e receberem do Estado o retorno que é devido a qualquer pessoa que queira viver em Portugal. Esta ilusão de que vem tudo de forma desregulada acaba numa grande desumanidade, porque não permite a integração. Não vejo sequer como isto pode ser tema de polémica. Esta política do PS não vende bondade, pelo contrário, o que entrega são dramas de vida, defraudando as expectativas de quem espera ter aqui um futuro muito melhor.
Mas o que alguns defendem é que quem vem trabalha e ajuda até à sustentabilidade da segurança social. Muitos descontam e nem usufruem porque não ficam aqui toda a sua carreira contributiva. Há também pessoas que vivem à margem – falou em Arroios, há o caso de Odemira, e outros… Qual é a solução? É garantir que quem vem tem contrato de trabalho?
É um dos elementos que me parecem fundamentais. Nós sabemos o que o PS quis e sabemos que temos: dez ou vinte pessoas num apartamento ou a dormir na rua… Muitos mendigos são estrangeiros que não arranjam trabalho. Temos pessoas que trabalham e estão integradas, mas outras não e os fluxos têm de ser controlados. Portugal tem de definir a vinda das pessoas, numa política migratória que, além do mais, está prevista em leis, garantindo que beneficiam de um trabalho numa situação fiscalizada pelo Estado e dando um futuro a cada um destes migrantes.
E as pessoas que já cá estão?
Vai ter de dar uma solução. Mas uma coisa garanto: quando o PS extingue o SEF, quando fecha os olhos perante uma pressão externa e não faz nada que regule este fluxo, cria um problema enorme que vamos ter de resolver. Há que perceber em que circunstâncias é que essas pessoas cá estão e aplicar a lei. Algumas podem ficar e outras se calhar não podem, como acontece em qualquer país do mundo. Mas se o Estado não fizer nada, não fiscalizar, não apurar o que acontece em cada caso, seguramente não conseguirá alterar as circunstâncias, nem do ponto de vista nacional nem da situação individual de cada uma dessas pessoas. Para mim, não é normal ter pessoas a desembarcar no Algarve, que são colocadas pelo Estado num local e desaparecem. Portugal tem uma obrigação de controlo das fronteiras externas na UE.
O Nuno Melo leva muitos anos de eurodeputado. Portugal tem neste momento um processo de Bruxelas por causa dos vistos da CPLP. Bruxelas não está a ser razoável, dada a nossa relação com esses países ou há de facto um défice de cuidado, porque quem chega não fica necessariamente em Portugal?
A livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais é um facto e quem está em Portugal circula. Isso entrega-nos a obrigação, como aos outros países da UE, de regular os fluxos, porque o facto de Portugal aceitar pessoas não significa que elas vão permanecer aqui. E bem sabemos que somos hoje a porta de entrada mais fácil para circular na UE, com impactos noutros países. Mas também não invalida uma relação histórica e preferencial que temos com os países de expressão portuguesa. Portugal não nasceu para o mundo em 1986, tem passado, tem uma História, tem relações privilegiadas, laços culturais históricos, de sangue e amizade com esses países. Esse relacionamento se calhar tem de ser contextualizado na Europa. Mas o que digo é que tem de haver equilíbrio. Sou contra tudo aquilo que seja simplesmente uma abertura geral abstrata, em que por uma circunstância todos podem vir. Acho que tem de haver fiscalização, mas também tem de se valorizar a relação com essa parte do mundo, a crédito de Portugal e da Europa.
Daqui a três meses vamos ter eleições europeias e ainda recentemente vimos os agricultores portugueses em Bruxelas para para fazer um pedido que se calhar não lhes caberia a eles fazer. Portugal tem falhado na afirmação das prioridades e das necessidades do país numa UE que cada vez mais é determinante no que se passa aqui?
As razões de contestação do sector agrícola português são eminentemente nacionais, não europeias – ao contrário do que sucede em França e no relacionamento de outros países com a UE. Há oito anos que não temos Ministério da Agricultura. Há oito anos que os fundos comunitários são desaproveitados, há cortes e atrasos de pagamento, há muito mais burocracia na apreciação dos processos… Os agricultores não conseguem definir a sua própria atividade, o que vão plantar, porque não sabem o que o governo vai privilegiar no enquadramento jurídico. O governo não tem sido sequer capaz de implementar o plano estratégico para a água, que é absolutamente fundamental. Os cortes nas medidas agroambientais foram só o detonador que levou os agricultores à rua.
O governo de António Costa virou as costas aos agricultores?
O governo separou a floresta da agricultura, entregou as direções regionais ao Ambiente – o que não lembra a ninguém –, temos uma ministra de costas voltadas para o sector. Não invalida que não haja também questões com o PEPAC (plano estratégico para Política Agrícola Comum) e alterações que devem ser feitas, como o reforço de verbas, mas as razões da revolta dos nossos agricultores são muito mais nacionais do que europeias.
Num governo AD esta será também uma área prioritária?
Tem de ser. Em qualquer país lúcido, a agricultura é uma área estratégica fundamental. Em Portugal, no tempo da troika, foi o sector que primeiro deu resposta – e sem agricultura não temos comidinha na mesa ao pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. Durante a covid, confinámos todos, mas os agricultores saíam para os campos. Com o PS, porém, a agricultura é invariavelmente o parente pobre do sistema. Veja a diferença de ministros como Jaime Silva e Maria do Céu Antunes para os de governos da AD, nomeadamente aquele em que Assunção Cristas aplicou 100% do PRODER, ou em que se antecipou em dez anos a construção do Alqueva, que mudou o ordenamento do território com aproveitamento de solos, criação de postos de trabalho, transformação de espaços de sequeiro em regadio… Tudo isto foi a AD.
Voltando à Europa, estamos a viver um tempo de mudança, com o alargamento da UE e a ascensão da direita mais radical, mas também novos equilíbrios geopolíticos e geoeconómicos no mundo – China e Rússia a ganhar peso, os efeitos de uma nova vitória de Donald Trump nos EUA… Como é que Portugal deve posicionar-se hoje na Europa?
No projeto europeu, curiosamente, fomos sempre um país sobredimensionado na influência, relativamente à nossa dimensão geográfica e demográfica. Portugal teve um presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, tem tradicionalmente comissários que são respeitados, funcionários e técnicos de altíssimo nível nas instituições europeias e que, pela sua competência, vão também afirmando o novo Portugal. A primeira coisa a continuar a fazer é querer, independentemente da dimensão, ser um país razoavelmente prevalente no contexto europeu. E tem de privilegiar, como lucidamente sempre fez, a estratégia atlântica ou euro-atlântica. Com o brexit, Portugal perdeu um dos seus principais parceiros nessa visão, que na nossa perspetiva é útil, que liga a UE às Américas e tem em Portugal uma porta giratória – somos periféricos na UE, mas um país absolutamente central no contexto geopolítico, estando no cruzamento entre Américas, África e a Europa. Tudo isso deve ser aproveitado.
É o triângulo Atlântico.
Que é muito relevante. Mas isso significa que Portugal queira ser muito mais protagonista do que beneficiário. E nós levamos oito de mão estendida e a aproveitar pouco aquilo que nos é entregue – veja o PRR, em que dos 22 mil milhões de euros temos uma taxa de execução que é perto de 17%. É ridículo! Além de estar mal gizado. Portanto, temos de ter protagonismo na UE, privilegiar a estratégia euro-atlântica e os fundos comunitários e através disso, através da credibilidade, sermos um parceiro no plano político internacional – que hoje estamos longe de ser, desperdiçando um capital antigo mas que se nota pouco.
E no posicionamento comercial? Temos neste momento um acordo Mercosul prestes a sair…
Eu não acredito nisso. Em 2009, já o acordo Mercosul estava a rebentar e eu recordo-me de ir ao Brasil e falar com os representantes da indústria, que eram muito a favor da parceria, mas depois falava com o governo, então da Dilma Rousseff, e notava-se grandes entraves, uma economia muito protecionista…
Mas hoje o Brasil é o maior promotor do acordo.
Mas o Mercosul não é só o Brasil e há outros países que são parceiros improváveis, que têm problemas internos graves, em muitos casos gerando desconfianças no plano internacional. Acho que o Mercosul é um belo plano de intenções, mas que nos próximos anos não acontecerá.
Há ainda assim uma mudança geopolítica em curso, as potências tradicionais já não são as que eram, a própria UE vive alterações de equilíbrio, há uma guerra na Europa… De que forma pode tudo isto dificultar a vida ao próximo governo e à definição de políticas, alterando até o cenário macro em que estão a trabalhar?
A UE vive momentos complexos que afetam assimetricamente os países. Nós vivemos pesadelos permanentes com a guerra na Ucrânia, que trouxe inflação, subida dos juros, teve efeitos muito disruptivos do ponto de vista económico e financeiro em muitos países; temos a incerteza da política norte-americana, com declarações exóticas de alguém que pode vir a ser de novo presidente dos EUA e que tem como contraponto alguém que, por razão da idade, também me parece manifestamente débil para a tarefa da ainda primeira potência global; e temos ao mesmo tempo a emergir outros protagonistas que rivalizam com os próprios EUA, começando pela Rússia, mas sem esquecer países como a Índia. Tudo isto está a alterar rapidamente os equilíbrios geopolíticos globais.
Deixamos de viver num mundo bipolar, para ser multipolar.
Multipolar e esquizofrénico. E se juntar a isto o conflito em Israel, que também transfere para outro lado do planeta, com impacto global, aquilo que são visões muito diferentes do ponto de vista político, percebe-se que nunca como agora, nomeadamente Portugal, deveria apostar tanto na UE, que apesar de tudo é um protagonista fiável, que nos ampara nos bons e nos maus momentos. E a UE e Portugal devem até ser adensar as suas parcerias com os parceiros fiáveis de sempre. A política mundial está muito dependente do que sucede nos EUA e não é indiferente que vença Trump ou Biden.
E até por isso faz sentido a UE estar a reforçar o seu orçamento para a Defesa?
Sim e desde logo que se cumpra a meta dos 2% de investimento, coisa que Portugal não faz. Depois do disparate mais recente de Donald Trump sobre a invasão pela Rússia de países que não pagam para a NATO, tivemos pelo menos o reconhecimento do secretário-geral da NATO de que os outros países, que não os EUA, têm de fazer muito mais em matéria de Defesa. Porque se países como a Polónia investem muito acima dos 2%, outros como Espanha investem bem menos (está em perto de 1%) e Portugal também está abaixo dos 2%. Os países da Aliança devem investir na NATO, particularmente os da UE, é uma obrigação, porque quanto maior a instabilidade, maior a certeza de uma instituição que tem garantido a paz à escala global desde 1945. Não é coisa pouca. Ainda agora, com a invasão da Ucrânia pelos russos, percebemos como a NATO é útil – de moribunda, passou a bem necessária. Serve isto ao menos para voltar a definir prioridades com lucidez.
Voltando a Portugal. Quais são as soluções da AD para resolver a crise demográfica que, sendo comum a toda a Europa, é pior aqui: somos dos países mais envelhecidos do mundo, perdemos todos os anos 40% dos novos licenciados e temos dos piores índices de qualidade de vida após os 60 anos…?
A melhor forma de resolver o problema da demografia é dinheiro no bolso. E a conciliação da família com trabalho, nomeadamente no que tem que ver com mulheres e maternidade. E não temos nenhuma delas de forma eficaz. Primeiro, porque se os salários são baixos as pessoas não têm filhos, depois porque há inúmeros entraves à conciliação do trabalho com a vida familiar e a maternidade.
Ainda assim, evoluiu-se nos últimos anos.
Mas não se evoluiu no que pragmaticamente importa, que é a capacidade de sustentar uma família com o número de filhos que se gostava de ter. Não é com um chamariz administrativo que se resolve alguma coisa.
Políticas de natalidade demorarão no mínimo 20 anos a ter efeitos…
Vai demorar, mas tem de ser feito, até porque o envelhecimento tem implicações a todos os níveis, do SNS à previdência. O mundo mudou e as prestações do Estado são em maior número e mais prolongadas, as pessoas vivem mais e o Estado tem de ser capaz de estar à altura, de lhes garantir a segurança que esperam na velhice. Mas a primeira coisa a fazer tem que ver com a natalidade, criar condições para que as pessoas possam ter filhos. Por isso é que a AD lança todo este projeto para a economia, que implica um novo modelo assente em aumentar o rendimento disponível das famílias e empresas. Se tiver melhores empregos e mais estáveis, vai ter maiores salários e com eles mais disponibilidade para ter filhos. E depois, há um conjunto de políticas relacionadas: por exemplo, o interior está desertificado, mas se criar condições de atratividade do ponto de vista administrativo, financeiro, do investimento e demográfico, terá outro impulso. Também pela via administrativa, garantir que ser mãe não impede que a mulher tenha uma carreira – apesar dos grandes discursos e proclamações, isso ainda não acontece. E por fim há que conjugar tudo com o envelhecimento – o Estado tem obrigação de amparar essas pessoas.
Já negociou com Luís Montenegro qual será a sua posição no governo se a AD vencer as eleições?
Não.
E que lugar gostaria de assumir?
Eu sinto-me habilitado a desempenhar muitas funções. Mas o importante de momento é vencer as eleições, garantir que a AD governa. E depois o primeiro-ministro, Luís Montenegro, terá a competência de definir os seus ministérios e os titulares das pastas. Certamente que conversaremos sobre isso, mas o facto de não se ter conversado até agora só mostra que o projeto país é muito mais importante do que a simples representação partidária no elenco governativo.
E quantos deputados espera eleger pelo CDS nesta coligação?
Acredito que elegerá quatro.
E que o partido volta para ficar?
O que sucedeu em 2022 foi conjuntural, não estrutural. O CDS voltará para ficar – e os portugueses ganham muito com isso. Se há coisa que o CDS fez desde 2022 foi aprender com os erros – a falar para fora, tentar resolver os problemas do país, trazer os melhores quadros, unir.
As sondagens mais recentes têm revelado uma tendência de vitória para a AD, mas há ainda muitos indecisos. Porque é que está a custar a descolar?
Tem sondagens para todos os gostos, mas acho que a AD vai fazer muito melhor do que as sondagens dizem. Recordo o que aconteceu nos Açores, onde se dava vitória ao PS e o PS perdeu e bem. O que eu peço às pessoas é que percebam que as eleições se ganham no voto. A grande sondagem será dia 10. Temos de falar com todas as pessoas, porta a porta, até ao dia das legislativas, para que realmente esta mudança aconteça. Eu acredito num resultado surpreendente, numa vitória muito maior.
E isso não será à custa de um bom resultado que poderia ter a Iniciativa Liberal?
O que os portugueses devem querer é reforçar o resultado da AD. Há lições a tirar dos Açores sobre o que significa ter a AD muito dependente do que tenha de fazer com outros – a coligação PSD/CDS/PPM caiu porque IL e Chega se juntaram ao PS para derrubar o governo. E é bom que isso não aconteça agora, depois de oito anos tão trágicos. Eu acredito que será possível a AD ter um resultado em que só tenha de depender dela para as decisões a tomar e para aplicar o seu projeto. O que me interessa mesmo é que a AD tenha um grande resultado.
Uma maioria absoluta AD? Acredita que é possível?
É possível e desejável.
E se não tiver?
O Luís já verbalizou as condições: governa vencendo eleições e, obviamente, também em maioria relativa.
Em 50 anos de democracia, só em 14 houve governos de maioria absoluta, mas desde que António Costa assumiu o poder parece que se deixou de poder governar em maioria relativa… Se acontecer, teme que, em outubro ou no OE do próximo ano, PS ou Chega deitem abaixo o governo?
Quem não permitir uma solução de governo, nomeadamente no espaço público da direita, há de pagar nas urnas a responsabilidade de trazer instabilidade ao país ou a possibilidade de o PS voltar a governar.
Ou de entregar o país ao Chega?
Isso não vai acontecer. Os portugueses são demasiado lúcidos para não perceberem que o Chega é de facto populista e manipula emoções sem pretender resolver problema nenhum. É exacerbar desamores e à volta disso tentar o ímpeto político. E não me venham com a conversa das direitas: o Chega não é um partido de direita, é um partido populista radical. Um partido que quer mais Estado, mais taxas e impostos, a TAP nacionalizada e a viver com o dinheiro contribuintes, que quer o PRR transformado em subsídios, o Estado fiador de empréstimos alheios, as forças de segurança a fazer greve e secções partidárias dentro dos quartéis, não é seguramente um partido de direita. É muito mais próximo do PS ou do BE do que da AD. Infelizmente, não temos eleições à francesa, em que se vota primeiro no protesto e depois na mudança. As pessoas têm todas as razões para estar revoltadas, mas têm de transformar a revolta em mudança e esperança, ou não se resolve nada. Nesta eleição há duas alternativas: quem acha que as coisas estão bem, vota no PS, quem não se resigna e quer um governo diferente, com outro projeto político, vota AD. Cada voto de protesto só deixa o PS mais próximo de governar.
O “protesto” é o terceiro partido mais votado no país e deve triplicar deputados… E em França, tudo indica que o voto de protesto vencerá as eleições.
Por isso digo: eu respeito tremendamente os eleitores, mas não vejo grande vantagem no partido, que significa muito do que eu combato. Sou um democrata radical e acredito profundamente na defesa da liberdade, a minha e a dos outros. E acho que os eleitores farão a opção certa no dia 10.
Mas acredita mesmo numa maioria absoluta da AD?
Não só acredito como o desejo.