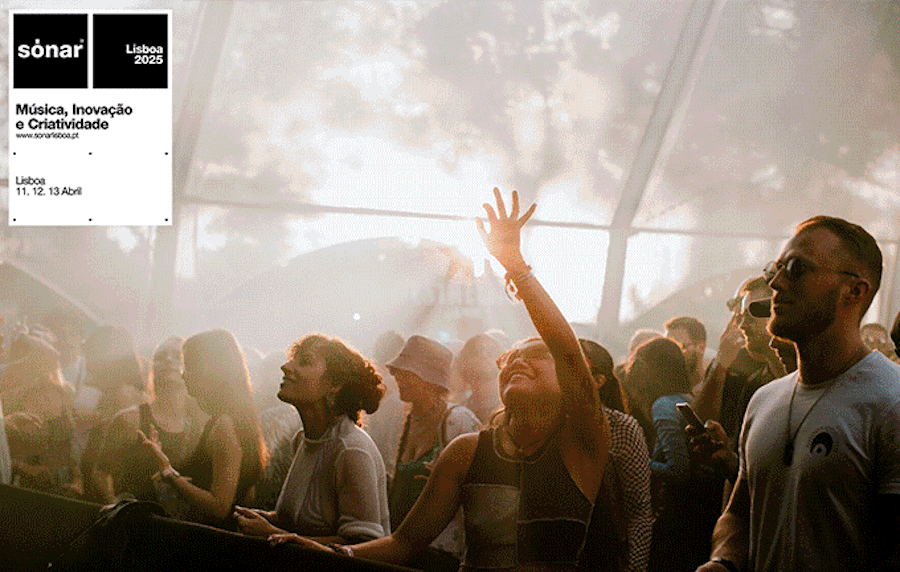Paulina Chiziane: “Nunca fiz um plano para ser escritora, nem grande nem pequena”
Primeira mulher negra a receber o Prémio Camões, o mais prestigiado da literatura lusófona, a escritora moçambicana Paulina Chiziane tem 67 anos dedicados a saltar barreiras. Desde a imposição na escola primária da língua portuguesa, da qual viria a ser destacada intérprete, com a obra publicada em Portugal pela Caminho, aos preconceitos que enfrentou ao tornar-se a primeira romancista do seu país, relata ao NOVO as histórias de um percurso em que até já negociou com uma das suas personagens enquanto sonhava.
Se, por artes mágicas, pudesse visitar a menina que veio de lugar nenhum e que aprendeu a escrever na areia do chão, como lhe diria que ela, um dia, seria uma escritora celebrada e viria a receber o Prémio Camões?
É uma pergunta interessante… Muitas vezes dou por mim a olhar para trás e, mesmo no momento em que recebi o prémio, vi aquela moldura humana de gente magnífica ali presente, mas estava a revisitar a minha memória da minha infância, aquele tempo de pobreza, de incerteza, de sonho e de fantasia até. De facto, o que me veio à mente é que o ser humano tem energias, tem capacidades e tem um mundo interior que desconhece. E à medida que o tempo passa, por vezes, as dificuldades que encontramos, os obstáculos como a pobreza, esses obstáculos são… [hesita]
Trampolins?
Sim. Essa menina a escrever no chão foi saltando, obstáculo a obstáculo, foi saltando barreiras. O que eu diria a uma menina nas mesmas condições, porque em África há muitas e aqui também deve existir, é que uma barreira não é para nos fechar o mundo, mas sim para testar a nossa capacidade interior de nos superarmos.
E, na sua infância, até onde podiam ir os seus sonhos? Até onde conseguia elevá-los?
Nem sabia o que era sonho e nem sabia exactamente o que queria. Só sei dizer que caminhei e que caminhei cada vez mais. Fui andando. Tinha uma energia para caminhar para algum lugar que não sabia onde era.
Qual foi o primeiro livro que leu?
Que li mesmo? Um livro da escola. Era a “Cartilha Maternal”, de João de Deus. Tinha aqueles textos que a gente não entendia, mas que nos abriu o horizonte para o mundo da leitura. O primeiro contacto foi com esse livro de João de Deus.
Pareceu-lhe uma coisa do outro mundo?
Não de outro mundo porque sou a sexta filha numa família com oito filhos e o livro passara pelos meus irmãos. Já estava familiarizada. Comecei a aprender a ler e a escrever com a minha irmã mais velha, que estava numa classe mais adiantada. Eu pegava nos livros, brincava com eles e fui aprendendo. Quando fui para a escola, já tinha uma noção da leitura e da escrita. Mas, à parte isso, havia literatura de cordel. Os meus irmãos liam “6Balas” [histórias de cowboys editadas nos anos 60 pela Agência Portuguesa de Revistas] e as minhas irmãs mais velhas, na altura, liam fotonovelas. Eu lia à revelia porque, às vezes, não me deixavam. Falando propriamente de literatura, entro em contacto com a literatura portuguesa quando estava no segundo ano do liceu. O primeiro contacto foi com os textos da Florbela Espanca, que vinham no livro da escola. Depois fui lendo o que as minhas irmãs traziam, o que conseguia trocar nas sapatarias, o que conseguia roubar também. Fazia parte desse nosso universo juvenil. Todo o indivíduo roubou um livrinho. Eu roubei vários. [risos]
Poderia ter sido uma contadora de histórias sem nunca chegar a ser uma escrevedora de histórias?
Podia. E gosto de o fazer. Por exemplo, nos dias de hoje, às vezes tenho convites das escolas pré-primárias, a que chamamos creches, e pedem para ir contar histórias a crianças de quatro, cinco ou seis anos de idade. É uma coisa que faço com muita naturalidade, em que me divirto, danço e canto, e conto histórias sem escrever e sem ler. Venho desse universo. Ler é muito bom, claro, tem todas as vantagens do mundo. Mas as sociedades que não lêem usam outros códigos e eu venho desses dois mundos.
Falando em códigos, ter-lhe-ia sido possível ser escritora sem a língua portuguesa, utilizando a língua materna?
Não sei. Isso é uma questão histórica muito complexa, muito difícil de responder. Os séculos de colonização foram de proibição do uso das línguas nacionais, uma proibição que acaba com a independência mas, na independência, a língua portuguesa é declarada como língua nacional. Se eu tivesse crescido num meio onde aprendesse a ler e a escrever na minha língua materna, logicamente que o faria, mas não sei escrever nessa língua. Apenas sei ler um pouco. Não desenvolvi essa habilidade.
Traz-lhe mágoa não saber escrever na língua chope [falada na província de Gaza, de onde Paulina Chiziane é natural, apesar de ter crescido nos arredores da cidade de Maputo, então Lourenço Marques]?
Chope ou qualquer uma das nossas línguas. É uma ferida porque sinto que fui desenraizada por um processo histórico e retornar é algo muito complexo. Nos dias de hoje, o sistema nacional de educação já tenta introduzir as línguas nacionais na formação escolar, e não tem sido um exercício fácil porque, durante séculos, criou-se essa ideia da existência de línguas superiores e de línguas inferiores. Então, nem sempre as pessoas estão com disposição de ver os filhos a “retroceder”, segundo elas pensam. Mas existe uma campanha para a aceitação desse processo, cujas vantagens são extraordinárias. Quando uma criança aprende na língua local e depois vai para a língua portuguesa, é muito mais competente do que uma criança que sai da língua materna e entra no português, como aconteceu comigo. A minha primeira classe e a minha segunda classe foram muito sofridas porque, em casa, só falávamos chope – o meu pai não deixava falar português – e, de repente, estava numa sala de aula onde só se falava português. Foi uma confusão. Não dava gosto nenhum ir para a escola porque não percebia nada e, muitas vezes, os alunos que estão nessa condição entram na sala de aula e são considerados péssimos, isso porque a língua é uma barreira. Só à medida que a gente penetra nela é que descobre que, afinal, ela é tão fácil.
A língua portuguesa conseguiu seduzi-la aos poucos?
Não tive espaço para isso. Era uma imposição. Só era um bom cidadão quem falasse bem português. Então, não houve espaço para a sedução. [risos]
Refutou muitas vezes críticas de que os seus livros não eram escritos em português propriamente dito, respondendo sempre que usava a língua portuguesa à sua maneira. O caminho para desenvolvermos a língua passa mais por cada um de nós a trabalhar com aquilo que somos e com o nosso contexto, em vez de a padronizar num acordo ortográfico?
Uma coisa é o acordo ortográfico, que tem as suas vantagens, e outra coisa é o espaço geográfico da língua portuguesa. Cada um tem a sua língua portuguesa. Eu estou em Moçambique, outro está em Timor e outro está no Brasil. Cada um fala como fala, mas um padrão de escrita sempre ajuda na comunicação, pois vai facilitar ler textos que vêm de diferentes partes do mundo. Não estou contra a padronização da grafia, não estou contra o acordo ortográfico, antes pelo contrário. Acho que toda a língua é comum. O que eu posso não estar de acordo é que um moçambicano, por exemplo, tenha de falar um português considerado padrão que vem de Coimbra ou do Porto. Eu não sou do Porto, sou de Moçambique, e mesmo dentro de Portugal a língua tem as suas variantes. Padronizar a grafia, sim, mas por muito que se exija que falemos português da mesma maneira, não acredito que isso seja possível. Devemos sempre manter dinâmica a língua.
E devemos ter liberdade para a usar…
É necessário ter liberdade… Estou a recordar-me agora de que o meu pai dizia: “Não gosto nada dos cardeais.” Coisas dele. E nunca falou dos pontos cardeais quando estudei geografia. “Gosto mais do cardinal, porque é uma flor.” O meu pai gostava de dizer os pontos cardinais [risos] e a gente já sabia que, quando fosse para conversar com ele, tínhamos de falar nos pontos cardinais, que na escola eram os pontos cardeais. Até à sua morte. o meu pai seleccionava as palavras e, quando fôssemos conversar com ele, tínhamos de as pronunciar como ele gostava. Contei isto só para sairmos dos assuntos sérios, mas a língua é isto mesmo.
Falando de um assunto sério, tornar-se a primeira romancista moçambicana era algo de que tinha noção enquanto estava a escrever “Balada de Amor ao Vento”, publicado em 1990?
Não fazia a menor ideia. Estava a contar a minha história, e as páginas foram aumentando. Apenas isso. Para mim foi uma surpresa descobrir que era o primeiro romance de uma moçambicana, acho que três ou quatro anos mais tarde. Estava muito longe do meu horizonte. A literatura ocupa, para mim, este espaço nobre. Quando estou só, registo o que penso e o que sonho e ponho as histórias no papel. Nunca fiz um plano para ser escritora, nem grande nem pequena. Fui fazendo e as coisas foram acontecendo.
Nos anos 80, quando começou a publicar contos na imprensa moçambicana, ser mulher era um obstáculo sério para a divulgação da escrita?
Ainda hoje é, para muitas mulheres jovens, mas o obstáculo é menor. No meu tempo era muito maior. Quando publiquei o primeiro livro, muita gente me perguntou: “Foste tu que escreveste isto? De quem copiaste? Não, as mulheres não têm capacidade para escrever isto tudo. Podem escrever poeminhas e cantigas de embalar…” Havia esse preconceito e foi muito difícil. Agora, já há mulheres que escrevem muito bem e que escrevem muitas coisas, mas ainda existe um preconceito de género muito grande.
Foi estarrecedor para si perceber que o preconceito poderia sobreviver ao fim do colonialismo, que poderia haver novos preconceitos a emergir?
Todas as sociedades são construídas com preconceitos. Isto é, o preconceito é uma espécie de um tempero. Em qualquer sociedade há preconceitos entre raças, grupos sociais… Há preconceitos entre continentes. Em todo o lugar, os preconceitos existem, e o mais importante é reconhecê-los e tentar eliminá-los para podermos caminhar.
Como se faz essa luta?
A consciência é o método a usar. Por exemplo, os tabus que nós temos… tabus, não, preconceitos mesmo em relação ao que é feminino e ao que é masculino. Ao homem tudo é permitido e à mulher tudo é proibido. A mulher não pode subir às árvores, não pode comer isto, não pode andar de bicicleta… O discurso para a mulher é “não pode”; o discurso para o homem é “pode e deve”. Uma coisa lá da minha terra: o homem, quando se senta, tem de abrir as pernas, mas a mulher tem de as fechar. Porque não posso abrir as pernas? Enfim, várias coisas, mas todas as sociedades as têm. O mundo moderno tem os seus preconceitos. E o mundo tradicional também. Isto é uma questão que envolve a construção de uma nova consciência.
E isso é trabalhoso…
Sim. [risos]
Tornar-se a primeira mulher africana a receber o Prémio Camões é o tipo de distinção que vai muito além do reconhecimento individual da sua obra. Pode ser um momento de viragem numa fase em que a África lusófona ainda passa por ser a perna mais curta de um tripé formado com Portugal e o Brasil?
Acho que é uma contribuição para o alcance do equilíbrio. Já conversei com várias pessoas que me dizem mesmo que nunca um Prémio Camões foi tão celebrado como aconteceu comigo. E é tão celebrado porque os brasileiros, os moçambicanos, os angolanos, todos os falantes de língua portuguesa, Timor também, nunca viram uma pessoa negra bantu a receber este prémio e foi uma espécie de lufada de ar fresco. Pensam: “Afinal, também podemos conseguir este prémio.” De certa maneira, isto aproxima-nos um pouquinho, quebra algumas diferenças, quebra alguns preconceitos e alguns mal-entendidos. Lembro-me várias vezes de ouvir, há muitos anos, que nunca tinha havido um preto a ter o prémio da lusofonia. Um africano, sim, mas preto, não, bantu, não, homens e mulheres. Aquilo foi um despertar, como quem diz: “Afinal, é possível.”
Vê-se como uma inspiração para novas gerações?
Exactamente. Sobretudo para as meninas negras que me dizem que “eu também, qualquer dia, hei-de ganhar”. Isso dá-me uma força.
Ao longo da sua obra, nunca teve medo de abordar questões polémicas na sociedade moçambicana, seja a prostituição infantil ou a poligamia. É dever ou é fardo de um escritor ser incómodo?
Não sei. Eu, pessoalmente, escolho os lugares onde quero estar e os assuntos que gostaria de trabalhar. Por exemplo, de política, não gosto.
Ficou desiludida com a política?
Não só. Eu quero ser livre. Tenho amigos que estão na esfera política e que são bons escritores, muito bons mesmo, mas que dizem: “Eu não posso publicar este livro porque o meu partido pode não concordar com os meus pontos de vista.” Há umas regras, e eu não estou para isso. Não quero nem misturar-me com os políticos nem escrever nada sobre eles. Escolhi o meu povo e aquelas pessoas que não têm voz. É com eles que convivo, são as histórias deles que eu escrevo. Mas foi uma questão de escolha mesmo. Há arenas de que não gosto.
Esse desligamento não foi traumático, portanto.
Foi uma escolha. Nada de traumas.
Quanto tempo é que as personagens de uma história demoram a largá-la quando acaba de escrever? Ou não a largam?
Depende. Estou-me a lembrar do “Ventos do Apocalipse”. Estava a escrever e o régulo era um tipo muito mau, muito feio. Descrevi-o assim e fui dormir. De repente, sonho que ele me disse: “Olha, realmente sou muito mau, mas tão mau assim como me descreveu? Não acha que exagerou? Eu bato nas minhas mulheres, eu torturo as pessoas, tudo isso, o meu coração é mau, mas eu sou bonito.” Achei aquilo muito interessante. Passaram-se uns dias, fui reler o texto e vi que, de facto, tinha cometido o crime do extremo. Então comecei a refazer o personagem. Ele era mau de coração, mas de corpo lindo. Pronto. Ele já estava feliz. E eu estava muito surpresa com isso.
É, de facto, uma ideia muito interessante personagens argumentarem com a autora…
Sim. [risos] Fui dormir no outro dia e lá me aparece a personagem, já bonito mesmo, a dizer: “Veja como é que eu sou. Estou de acordo, mas também podia reduzir a maldade de algumas daquelas mulheres que eu tinha e que eram muito más.” Foi um fenómeno interessante, mas vim a saber mais tarde que a gente está a esculpir o personagem, ficamos todo esse tempo a pensar e é normal que a mente molde durante os sonhos. Mas foi uma experiência muito, muito interessante. Há personagens que me largam, mas outras não, sobretudo aquelas que aparecem no contexto da realidade e que, depois, temos de transformar e ficcionar um pouco. Estou-me a lembrar agora, ainda do “Ventos do Apocalipse”, de uma senhora chamada Minosse, que teve uma filha, segundo ela, muito parecida comigo. Então, todo o livro é feito a partir dos sonhos desta mulher que me viu e que se assustou, porque a filha tinha acabado de ser morta dois dias atrás. Recordo-me dela com carinho até hoje. E cada vez que eu falo da Minosse, é a mãe, é a filha parecida comigo, é o cheiro, são coisas que me tocam profundamente até hoje. E o livro foi escrito em… 1989? 1991? Não sei [“Ventos do Apocalipse”, o segundo romance de Paulina Chiziane, foi publicado em 1995].
De todas as promessas que foram feitas aos moçambicanos aquando da independência, qual é a mais gritante que ficou por cumprir? Aquela que a leva a falar numa independenciazinha.
É complicado falar desse assunto. Costumo dizer o seguinte: a libertação é como a lei de Newton. Se foram quase cinco séculos de colonização, serão necessários outros cinco séculos de libertação. Tivemos a independência, temos apenas 50 anos, apenas 10% do tempo de que precisamos. A independência foi a libertação da terra, a libertação política, mas a libertação do ser humano e de todas as condições é um processo que vai demorar muitos anos e muitas gerações. Por exemplo, esta questão da língua portuguesa que eu apontei há dias [na cerimónia de entrega do Prémio Camões, a escritora apelou a uma “descolonização” da língua portuguesa, dando exemplos de palavras que no dicionário têm significados depreciativos para os africanos, como “catinga” ou “palhota”]: a língua portuguesa chega a nós num contexto imperial e colonial. Tem os seus preconceitos, tem os seus problemas, e, em 50 anos de liberdade, ainda não foi possível equilibrá-la, É um trabalho que todos juntos temos de fazer até chegarmos a um patamar razoável. Isso vai levar o seu tempo. Se calhar, vamos ter uma língua portuguesa mais ou menos harmoniosa daqui a mais 50 anos. São processos. E outra questão tem a ver com a libertação das nossas próprias mentes. Tantos anos acreditámos que éramos inferiores e que havia alguém que era superior. Esta consciência de igualdade também vai levar o seu tempo a construir. São várias coisas. Promessas, existem. Os políticos de todo o mundo prometem. Estou-me a lembrar de um político brasileiro – já não me lembro quem – que em plena campanha eleitoral prometeu construir pistas para aterragem de ovnis. [risos]
Realmente grave é que essa promessa possa valer votos…
Ele próprio não sabia o que é um ovni, mas tinha ouvido falar de extraterrestres. É por isso que, para mim, os discursos políticos… [Volta a rir-se.] Todos dizem a mesma coisa mas, no fim, o povo continua o povo, o rico continua rico, o pobre fica sempre pobre. Muitas falsas promessas.
Entre os receios que partilha acerca do futuro e presente de Moçambique está o extremismo religioso.
Infelizmente.
Aquilo que sucedeu em Cabo Delgado [com ataques de um grupo ligado ao Daesh] é só a ponta do iceberg de mentalidades complicadas que estão a aparecer no seu país?
Até hoje, ainda não entendi o que está a acontecer em Cabo Delgado, porque a maior religião ali é a islâmica, mas eu trabalhei muito naquelas zonas e nunca houve distância entre o cristão e o islâmico tradicional. Nunca. Sempre conviveram. E, de repente, aparece um grupo que se diz islâmico e mata os outros muçulmanos. São os “muçulmanos perfeitos” que matam os outros muçulmanos. Também não consigo perceber se aquilo será mesmo uma questão religiosa. Eles fazem assassinatos com rituais macabros em que pegam no facão e cortam o pescoço enquanto gritam “Allahu Akbar” [Alá é grande]. É um muçulmano a matar outro muçulmano. Então, o que se passa? Não sei, confesso que não sei. E são extremismos religiosos que estão a invadir a África quase toda,
Inquieta-a o mundo que será o dos seus netos e dos seus bisnetos?
O meu mundo também não foi tranquilo. Alguém tem de lutar por essa tranquilidade. O mundo dos meus filhos e dos meus netos também não será tranquilo. É por isso que eu, de vez em quando, tomo a ousadia de falar de alguma coisa relacionada com o futuro de África. Nós não podemos adormecer a pensar que tudo está perfeito. Mas não é por ser África apenas. Esse discurso tem de ser um discurso universal. Às vezes pensamos que está tudo bem e, de repente, aquele bicho mau no ser humano desperta. Veja o que se está a fazer entre a Rússia e a Ucrânia. É uma questão humana.
Enquanto pioneira em tantas coisas, pensa que fazem falta mulheres nas chefias de Estado em África, e na África lusófona em particular?
É uma questão interessante porque não é uma questão de sexo. O crime não tem sexo, a honestidade não tem sexo. Eu não iria reclamar chefes de Estado mulheres ou homens. Iria reclamar chefias de Estado humanas, pessoas interessadas no futuro. Algumas das histórias de mulheres no poder são macabras, pelo que o facto de ser mulher não significa que será mais humana. Eu tentei procurar alguma coisa da governação da Cleópatra e apanhei uma grande decepção. A Cleópatra é tão tirana como um faraó qualquer. Para mim, isso não tem a ver com o sexo, e sim com uma visão do mundo humano que se pretende construir.
O mais importante é lutarmos para que apareçam essas lideranças?
No caso africano, sempre existiram, mas quando veio o domínio imperial, as figuras femininas foram desaparecendo. Há muitas rainhas na nossa história. O norte de Moçambique sempre foi governado por mulheres. E nem por isso a sociedade mudou. O sul de Moçambique teve também várias mulheres na governação, mas a sociedade não se tornou melhor por ser uma mulher a governar.
Temos é, como disse o pastor norte-americano Martin Luther King, de nos darmos todos bem uns com os outros?
Isso sim.