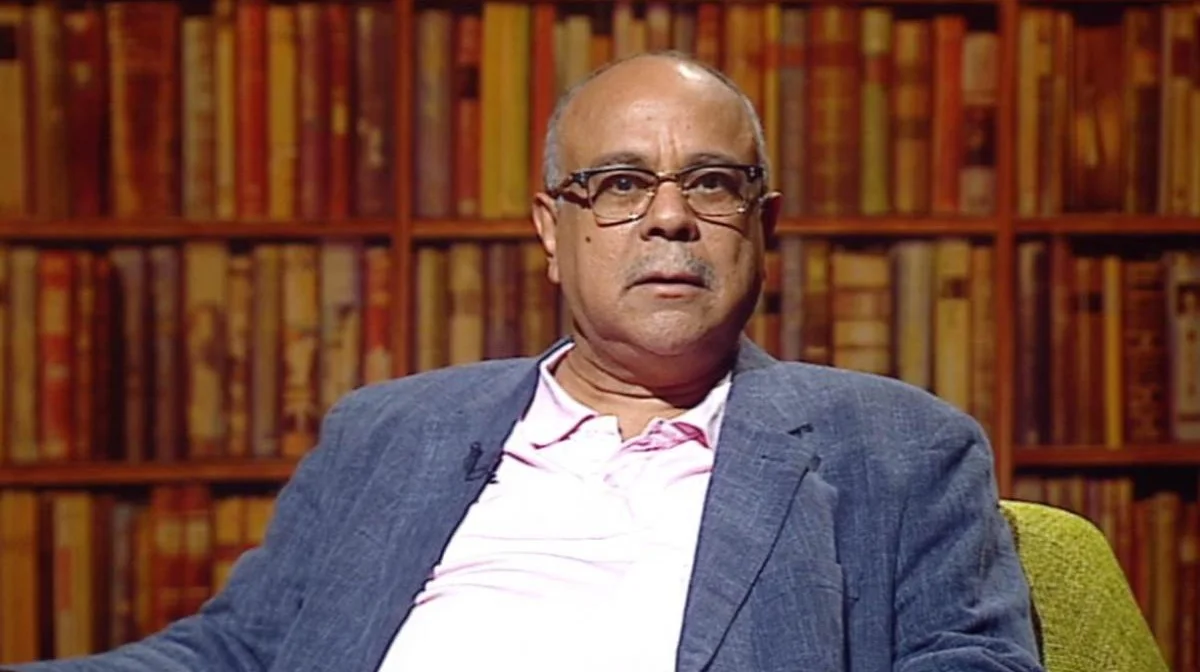A minha primeira leitura, quando foi anunciada, em novembro, a queda do governo do PS e a realização de novas eleições, foi: é golpe. Partilhei-a com vários amigos portugueses e – confesso – fiquei espantado com o facto de muitos deles não fazerem a mesma leitura, deixando de ver, por conseguinte, que se estava diante de mais um caso de lawfare, idêntico, no essencial, a vários outros já acontecidos em diferentes países.
Não tardou que os factos me dessem razão: poucos dias após a divulgação do comunicado da PGR lançando a suspeição sobre António Costa, descobriu-se que, afinal, o “Costa” era outro (tratava-se do ministro da Economia, António Costa Silva; entretanto, mesmo em relação a este, as “suspeitas” de Lucília Gago não vingaram). Ou seja, se o facto não fosse sério, tratar-se-ia apenas de uma brincadeira, embora de profundo mau gosto. A verdade é que, quatro meses depois, António Costa não foi constituído arguido nem sequer foi ouvido. Como ironizou Miguel de Sousa Tavares na sua habitual coluna no Expresso, “devem estar a escutar-lhe o telefone para ver se as ‘investigação’ avança”.
O golpe de Estado judicial que derrubou o governo de António Costa foi confirmado nas eleições antecipadas do dia 10 de março de 2024, vencidas por maioria relativa pela AD (coligação entre PSD e CDS) e tendo o conjunto dos partidos de direita e da extrema-direita, esta representada pelo Chega, conquistado uma ampla maioria absoluta dos assentos.
Duas razões de fundo parecem explicar a derrota do PS, além do óbvio e descarado antagonismo de quase toda a imprensa, em especial as TV e o comentariado nacional, para não mencionar certas intervenções do próprio Presidente da República, claramente partidárias. A primeira foi a sua cobardia, ao não ter denunciado frontalmente o lawfare de que foi alvo. A segunda, talvez mais elementar, o facto de não se ter posicionado expressamente contra a corrupção, permitindo assim que ficasse a pairar no ar certa retórica populista e demagógica usada pela oposição contra esse fenómeno, como se fosse apenas problema do PS e não de toda a sociedade portuguesa.
O Chega foi dos que mais fizeram uso dessa retórica populista e demagógica, como é apanágio do fascismo, em todos os tempos e lugares. Essa foi, certamente, uma das razões para o seu crescimento exponencial, ao ponto de se ter tornado na terceira força política no novo parlamento português.
Na realidade, o referido partido pode ser considerado o grande vencedor das recentes eleições portuguesas. Essa é a leitura mais comum que quase todos, à direita (sobretudo) e também à esquerda, têm feito dos últimos resultados eleitorais. Caiu por terra a ilusão de que Portugal – “jardim à beira-mar plantado” – poderia escapar à tendência atual de crescimento da extrema-direita e do neofascismo em todo o lado. O que a análise precisa, por isso, de começar por investigar é: como foi possível a uma organização até aqui minoritária tornar-se de repente no terceiro partido mais votado? Quem votou nele para que isso se tenha tornado possível?
O discurso “antissistema” é talvez o principal ponto comum que une os novos fascistas em todas as paragens. Assim, o Chega usou e abusou desse autêntico mantra, pondo em xeque o funcionamento da democracia e levantando suspeições em relação a todos os políticos. Contando com a cumplicidade tácita, pelo menos, da grande imprensa local e de alguns procuradores, conseguiu colar a imagem do governo e do PS à “corrupção”, através da criação e exploração mediática até à exaustão de uma série de “casos e casinhos”, estratégia a que o anterior partido maioritário se revelou incapaz de reagir durante a campanha eleitoral. Obcecado em cumprir religiosamente a Bíblia neoliberal, isto é, as “contas certas”, o PS esqueceu-se da luta, inclusive ideológica, em defesa do Estado social, deixando de enfrentar certos problemas sociais básicos e, sobretudo, abdicando de comunicar genuína e eficientemente com as classes média-baixa e popular. Muitos eleitores pertencentes a esses grupos sociais, incluindo jovens, caíram no engodo do Chega.
O racismo e a xenofobia de uma parcela importante da sociedade portuguesa são outro fator que explica a votação no Chega. Sendo esse partido conhecido pela sua postura racista e anti-imigração, o facto de existirem muitos portugueses que se reconhecem nessa postura choca alguns seres bem pensantes. O atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, por exemplo, apressou-se a afirmar que não existem 18% (mais ou menos a votação que teve o Chega) de xenófobos e racistas em Portugal. Ingenuidade, obviamente, o que, para o líder de um partido com vocação de poder, é pouco abonatório.
Isso faz-me lembrar o espanto de alguns respeitáveis comentaristas portugueses, que se declaram chocados com a existência de tanta gente, incluindo jovens, que partilha do discurso anti-imigração do Chega, sendo Portugal “um país de emigrantes”. Esquecem-se esses comentaristas da componente fundamental: o racismo. Ou seja, normalmente, o discurso anti-imigração está associado ao discurso racista, que, embora muitos relutem em reconhecer, é forte em Portugal. A retórica contra os imigrantes tem um alvo certo: os negros (escuros ou claros), os árabes e os indianos; imigrantes loiros e de olhos azuis ou verdes são bem-vindos.
É preciso, pois, dizê-lo: a sociedade portuguesa, pelo seu próprio passado (Portugal foi o maior país escravocrata da História e aquele que prolongou por mais tempo a sua dominação colonial), não está imune à atual tendência universal de crescimento da xenofobia, do racismo e do fascismo. Assim, mesmo que alguns votantes no Chega nas últimas eleições portuguesas não sejam xenófobos e racistas explícitos ou vocais, são, inegavelmente, seus cúmplices.
Finalmente, a terceira explicação avançada unanimemente pela análise é que o Chega contou com uma votação expressiva entre os portugueses que, nos últimos anos, se têm abstido. Os números confirmam isso. Alguns comentaristas portugueses estão, por isso, otimistas: como o Chega, pela sua própria natureza (afinal, trata-se de um partido “antissistema”, cuja vocação será o protesto e não a governação), não tem condições de resolver os problemas dos portugueses, muitos daqueles que habitualmente se têm abstido e que, nas últimas eleições, resolveram “experimentar” esse partido voltarão a abster-se no futuro.
A ver, vamos. Essa é, naturalmente, a questão daqui para a frente. Na altura em que escrevo este texto, não está claro – pelo contrário! – como é que a AD irá governar, a fim de assegurar a necessária estabilidade governativa. A verdade é que o futuro imediato, após as eleições de 10 de março deste ano, está cheio de dilemas para todos os partidos portugueses.
Para começar, a AD só faz maioria se se aliar ao Chega, mas a sua liderança tem insistido que o “não” a essa possibilidade, assumido durante a campanha, é para cumprir. Logo após o anúncio dos resultados eleitorais, várias vozes, dentro e fora da coligação vitoriosa, começaram a pressionar a referida liderança para dar o dito por não dito e chamar o Chega para o governo, mas outras figuras continuam a opor-se fortemente a essa “solução”, alegando que isso colocaria a direita num quiprocuó: se o governo resultar, o mérito será do Chega, uma vez que sem ele não há maioria; se não resultar, toda a direita se afundará.
Outras vozes, entretanto, têm apelado a uma solução que no passado já funcionou: um entendimento entre a AD e o PS, ou seja, um Bloco Central. O PS, porém, já disse que não está disposto a isso, o que, politicamente, parece acertado, pois, se o PS aceitar formar um governo com a AD, para impedir o Chega de entrar no governo, deixará a liderança da oposição ao partido de André Ventura, cuja votação é superior à de todos os outros partidos oposicionistas. Mas, de qualquer modo, o PS não pode encurralar a AD, acenando desde já com a sua possível inviabilização, como já anunciaram outros partidos de esquerda, pois isso empurraria a coligação para os braços da extrema direita. O mais provável é que o PS acabe por viabilizar pontualmente cada orçamento a apresentar pela AD, esperando, talvez, que ela se desgaste, provocando, a médio prazo, nova antecipação das eleições.
Para terminar, tudo indica que – para usar uma expressão brasileira – a saia justa da AD é mais apertada do que a do PS, pois, se formar maioria com o Chega, terá de pagar, quase certamente, um ónus muito pesado por isso; se cumprir a sua promessa eleitoral de não fazer essa aliança com a extrema direita, terá de governar com uma espada de Dâmocles – a possibilidade de eleições antecipadas a qualquer momento – sobre a cabeça.
Antigo ministro de Angola
Artigo publicado na edição do NOVO de sexta-feira, dia 29 de março